
✨ Acesse sua conta
Ainda não tem cadastro? Só leva um minutinho ;)

Quando falamos em autonomia, não estamos tratando apenas da capacidade de tomar decisões práticas sobre a vida, mas de algo mais profundo: a possibilidade de nos nomearmos. Em termos psicanalíticos, a questão do “quem sou eu” está no centro da constituição subjetiva. Desde cedo, somos atravessados por discursos familiares, sociais e culturais que nos oferecem nomes, funções e expectativas. O processo de autonomia implica, então, em poder diferenciar-se desses significantes herdados e produzir, em alguma medida, uma nomeação própria.
O conceito de autonomia é central em diferentes áreas do conhecimento — da filosofia à psicologia. A palavra vem do grego auto (próprio) e nomos (lei, norma), significando literalmente “dar a si mesmo as próprias leis”. Na prática, autonomia não se limita à independência externa, mas envolve a capacidade de alinhar escolhas de vida àquilo que corresponde à nossa subjetividade e aos nossos valores.
Freud já nos lembrava que o sujeito não é senhor em sua própria casa, sendo atravessado por desejos inconscientes e pelas demandas do Outro. Lacan, por sua vez, aprofundou essa ideia ao destacar que a identidade não é algo fixo, mas uma construção simbólica, sempre em relação à linguagem. Assim, a autonomia não deve ser confundida com um ideal de independência absoluta — que seria ilusório —, mas pode ser pensada como a possibilidade de se posicionar frente aos discursos recebidos e construir um lugar singular a partir deles.
Esse movimento é exigente porque requer coragem: implica reconhecer que muitas vezes seguimos caminhos ditados por convenções externas ou por identificações que já não nos servem. O sofrimento, como observou um pajé com quem conversei certa vez, muitas vezes surge justamente quando caminhamos em direção contrária ao que nos faria bem, sem perceber. Do ponto de vista psicanalítico, esse “desvio” pode ser compreendido como o afastamento de uma verdade subjetiva, sufocada por ideais e expectativas que não correspondem ao desejo singular de cada um.
Autonomia, nesse sentido, não se reduz à escolha de mudar de emprego, casa ou relacionamento. Antes disso, envolve um trabalho interno: escutar o próprio desejo, reconhecer as fantasias que nos atravessam e questionar os lugares que ocupamos para além dos rótulos. A análise, por exemplo, pode ser um espaço privilegiado para essa escuta, justamente porque possibilita o sujeito confrontar-se com sua própria história, suas repetições e, gradualmente, construir novas formas de dizer-se.
Como lembra Winnicott, “ser é mais fundamental do que fazer”. A autonomia, portanto, está menos em uma sucessão de escolhas externas e mais na capacidade de sustentar um modo de existência próprio, ainda que este não se encaixe inteiramente nas expectativas sociais. Trata-se de assumir uma posição subjetiva que não elimina a alteridade, mas a integra de forma criativa e singular.
Em última instância, exercer a autonomia é habitar a própria vida com maior autenticidade. Não significa eliminar conflitos ou dúvidas — inerentes à condição humana —, mas reconhecer-se como autor, ainda que parcial, de sua história. É nesse movimento de auto-nomeação, sempre inacabado, que encontramos uma forma de liberdade: não o poder ilimitado de escolher qualquer coisa, mas a possibilidade de dizer quem somos e sustentar esse dizer diante do mundo.
Texto escrito e publicado pelo psicólogo Daniel Good God (https://www.psicologiaecultura.com.br/perfil.php?id=1)
em 02/09/2025
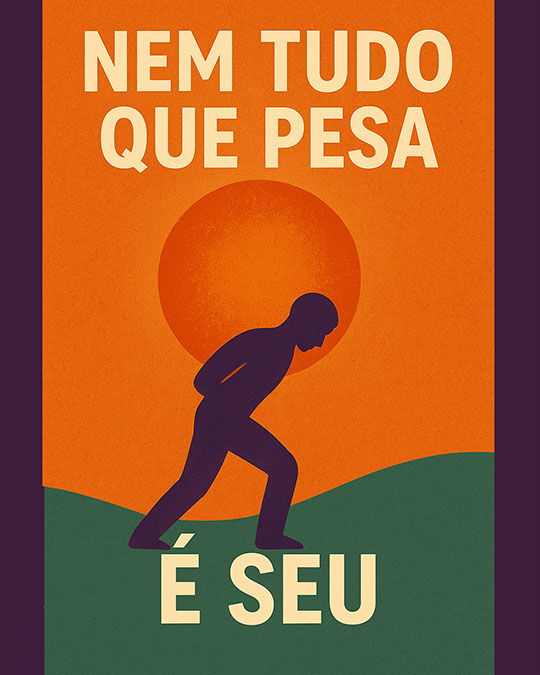
Nem tudo que pesa é seu.Carregar o outro nas costas não é empatia, é exaustão. Nem toda dor alheia precisa ser sua. Empatia é estar presente, reconhecer a dor do outro sem absorvê-la.
Leia mais →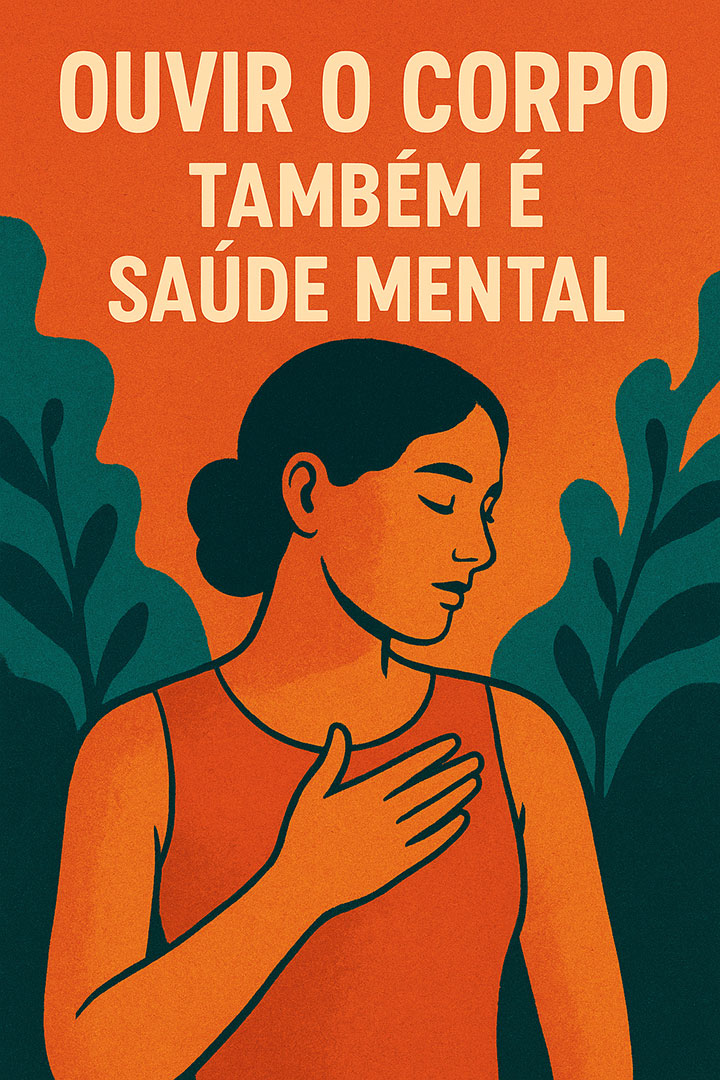
Nosso corpo fala o tempo todo — e de muitas maneiras. Às vezes é uma dor ao dormir, um incômodo na postura ou aquela fadiga que não passa. Outras vezes, são marcas mais sutis, ligadas a experiências emocionais que não encontram palavras, mas se expressam pelo corpo.
Leia mais →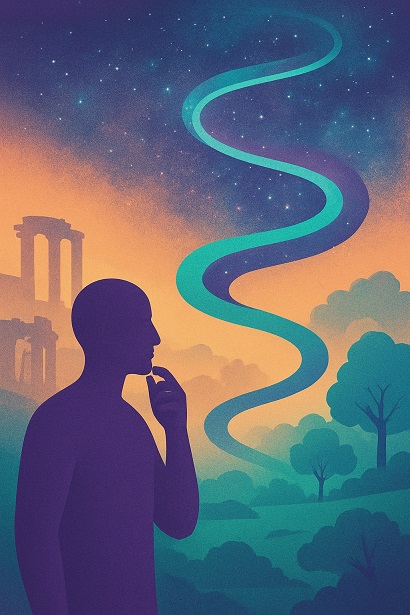
"Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la." A frase de George Santayana ressoa não apenas no espaço íntimo da clínica, mas também no tecido social.
Leia mais →